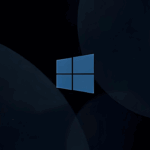“As notícias de minha morte foram claramente exageradas.” Em maio de 1897, o escritor americano Mark Twain reagiu com ironia e bom humor depois de ler no jornal o seu próprio obituário. Pode-se dizer, como paráfrase de Twain, que o recorrente anúncio do dramático fim dos empregos depois da ascensão dos robôs de inteligência artificial (IA) é também um tanto desmedido. Recentes estudos em torno do tema — relevantes por terem sido feitos depois da pandemia, após a popularização de motores ao modo do ChatGPT — servem de freio de arrumação a um temor humano, demasiadamente humano. Sim, muitos postos de trabalho sumiram e muitos outros desaparecerão do mapa. Contudo, abre-se por meio da tecnologia, como sempre na história da civilização, uma avenida de possibilidades. Vive-se momento decisivo, de definição de caminhos — para as empresas, para os jovens em busca de trabalho ou na escolha de faculdade. Como a IA não pode ser desdenhada, trata-se de compreendê-la.

Um levantamento do Fórum Econômico Mundial, o Future of Jobs 2025, elaborado a partir da perspectiva de 1 000 empregadores, de 22 atividades distintas, representando mais de 14 milhões de trabalhadores em todo o mundo, traz informações reveladoras: até 2030, 22% dos empregos serão dizimados, em um total de 92 milhões de posições. No entanto, 170 milhões serão criados a partir das inovações, de atividades que nem mesmo existem, ainda. Tendem a ser subtraídas as profissões rotineiras, baseadas em regras rígidas, em processos repetitivos. Permanecerão vivíssimas as ocupações que pressupõem contato com gente de carne e osso, sensibilidade e habilidades de leitura e escrita. Adeus, em breve, a atendentes de telemarketing e corretores de seguro, por exemplo. Assistentes sociais e artistas, porém, terão longa vida (veja no quadro). O Goldman Sachs estima que 46% das tarefas administrativas e 44% das atividades jurídicas poderão ser automatizadas na próxima década. Nos setores financeiro e jurídico, funções como análise de contratos, detecção de fraudes e consultoria financeira estão sendo cada vez mais desempenhadas por sistemas de IA. Bill Gates, o sujeito por trás de parte da origem de tudo o que vemos por aí, tem um prognóstico: a semana de trabalho de dois dias, a partir da onipresença digital, é uma possibilidade nos próximos dez anos.
Não é o caso, contudo, de decretar o fim disto ou daquilo, em certezas prematuras, mas de saber para onde o vento sopra. “Atividades complexas continuarão a ser executadas por seres humanos”, diz o pesquisador canadense Yoshua Bengio, um dos mais interessantes e afinados analistas do futuro que pede passagem. “A IA será útil em quase todos os campos da tecnologia, mas fazê-la funcionar de acordo com as reais necessidades da civilização é capacidade exclusiva do ser humano.” Dito de outra maneira, pela filósofa americana Shannon Vallor, autora de um best-seller da academia, The AI Mirror (O Espelho da IA): o risco não seria a progressiva substituição de pessoas por máquinas e, com esse movimento, o desemprego em massa. O perigo é o que ela chama de “estagnação da espécie”, a nossa, ao abrir mão de decisões, do suor, do trabalho em busca de soluções.

Antes do atual rearranjo ancorado em estatística — como o promovido pelo Fórum Econômico Mundial —, pintava-se o apocalipse porque é saída atávica. Supunha-se derrocada de 60% das atividades, em um mundo povoado de autômatos. Mas não. Outro dado recente, da consultoria americana McKinsey, revela haver imenso salto na cola da IA: com o aumento da produtividade global, nos próximos 35 anos a economia será ampliada em 4 trilhões de dólares. E então haverá mais trabalho do que agora. “Não é para ficar apavorado”, diz Álvaro Martins, professor de tecnologia da informação da FGV, de São Paulo. “Vivemos uma transformação parecida com a dos computadores pessoais, nas décadas de 1970 e 1980, e com a da internet, nos anos 2000.”

Há quem empurre as fronteiras do amanhã um tanto mais para lá. A IA representaria um novo passo, além dos computadores domésticos e da onipresente rede. Ela seria o símbolo de uma suposta quarta Revolução Industrial. A primeira, na segunda metade do século XVII, promoveu o motor a vapor, com rápida mudança da paisagem urbana, feita de chaminés. A segunda, no século XIX, bebeu dos motores a combustão e do vasto uso da eletricidade. A terceira veio a reboque do aumento da capacidade de processamento das chamadas máquinas de pensar, os computadores. O atual momento, o quarto, costurado pela IA, resultaria em salto exponencial, assustador, com a fusão dos universos físico, digital e biológico.
O futurólogo Ray Kurzweil fez uma estimativa — o cérebro humano tem uma capacidade de cerca de 1026 cálculos por segundo (CPS); por volta de 2040, a inteligência não biológica que criamos será 1 bilhão de vezes mais rápida nas contas por segundo do que a nossa massa cinzenta. E mais: em 1999, um chip de computador de 900 dólares, nos valores de hoje, realizava 800 000 cálculos por segundo, por dólar; hoje, um chip de valor equivalente produz 58 bilhões de cálculos por segundo, por dólar. Vem daí, portanto, a convicção de logo sermos postos no acostamento da produção, em cipoal de prognósticos ruins.
Não será tão duro assim, apontam os especialistas, e cenas como a de um policial e de um cachorro feitos de silício e metal, inteligentíssimos, durante o GP de Fórmula 1 da China, em março, permanecerão, daqui para a frente, soando como ficção científica, ainda que funcionem parcialmente. É diferente, contudo, em alguns tipos de indústria, como a automobilística, em que robôs podem sim substituir homens e mulheres — mas dependerão de homens e mulheres para começar a brincadeira. “Ainda que não vejamos todos os avanços no cotidiano, porque muitos deles estão abaixo da superfície, a IA já não pode ser revogada”, afirma o brasileiro Adriano Blanaru, da consultoria PPFX Labs, instalada no coração de onde vêm as mudanças, em San José, na Califórnia. “O gênio saiu da garrafa e não há como pô-lo de volta.”

A dança dos números, em que muitos preveem o fim dos tempos e outros nem tanto, na lida com os empregos, nasce de uma indagação equivocada e simplista: as máquinas poderão, enfim, reproduzir o raciocínio e reflexos da mente humana? Elas já fazem isso, e com alguma margem de facilidade — o ponto é ensiná-las a fazer o que não somos capazes, ou então que demande muita energia e dinheiro. Em 1950, o matemático inglês e decifrador dos códigos da Segunda Guerra Mundial Alan Turing propôs avaliar a inteligência dos computadores pela capacidade deles de enganar alguém, ao fazê-los raciocinar como humanos. O “jogo da imitação” de Turing, popularizado em um extraordinário filme de 2014, estrelado por Benedict Cumberbatch, pavimentou a estrada errada, ao celebrar cópias exatas dos cérebros e conexões neurais. “O correto é imaginar computadores como ajudantes dos humanos, e não reprodução do que somos”, diz Erik Brynjolfsson, diretor do Laboratório de Economia Digital da Universidade Stanford. Lembre-se, como lição proposta pela história, em outro momento de susto tecnológico, que Henry Ford, ao alimentar o sucesso do modelo T, não ofereceu ao mercado um veículo que reproduzisse o caminhar de humanos. Ele inventou uma outra coisa. É o que se deve fazer com a IA.
Como não cair em depressão se o túnel é extenso, e sabe-se lá exatamente o tipo de luz que entregará, embora seja certo haver? Um bom caminho é olhar para o retrovisor dos tempos. Não é a primeira vez de vasto temor com as ocupações cutucadas pelas descobertas que rompem estruturas. Há dois séculos, os tecelões de Nottingham, na Inglaterra, foram ameaçados pela introdução do tear mecânico. Aqueles trabalhadores tinham vida digna, derivada da habilidade na confecção de meias e rendas, em fabriquetas familiares. Nervosos, desesperados, entraram em guerra contra a tecnologia, com greves e atentados. Fizeram líder um certo Ned Ludd, figura fictícia, sujeito que vomitava ódio contra o novo. O movimento foi batizado de ludismo, na grita contra o uso “fraudulento e enganoso” de máquinas para contornar “práticas laborais estabelecidas”. Usar o mesmo argumento contra a IA vai dar ruim, em tiro no pé. “É crucial ter senso crítico, saber distinguir o que realmente funciona e pode ser positivo”, diz Ana Ligia Finamor, coordenadora do MBA em gestão de negócios da FGV.
As soluções — ou, digamos, as ideias de controle da IA no mercado de trabalho — começam a ser desenhadas. É preciso, desde já, preparar as novas gerações. Não por acaso, as escolas já puseram alunos e professores diante da realidade que bate à porta. O Colégio Bandeirantes, de São Paulo, reputado pela formação de profissionais de “exatas”, desenvolveu uma cartilha para orientar os docentes sobre as situações em que a ferramenta deve (e não deve) ser usada, estabelecer limites éticos e as abordagens junto aos estudantes. “É uma realidade inescapável”, diz Emerson Bento Pereira, diretor de tecnologia educacional do colégio. No segundo semestre, o tema estará no currículo.

Outra resposta, mais cara e talvez mais premente, ao menos do ponto de vista da geopolítica mundial, é pôr a mão no bolso. Dada a impossibilidade de desligar a IA ou de torná-la burra, os governos tratam de pôr a mão no bolso. A corrida começou, e quem chegar na frente terá vantagem, usando o suposto “inimigo” a favor do incremento de vagas de trabalho. Dominar a IA vale ouro. Bem-vindo à Guerra Fria 2.0 elevada ao cubo, em que China e Estados Unidos brigam pela IA. Os chineses acabam de anunciar um “fundo de orientação de capital de risco estatal” concentrado em áreas de ponta, da qual a IA é a joia da coroa, estimado em 138 bilhões de dólares de dinheiro público e privado. Donald Trump divulgou 500 bilhões de dólares em uma estrutura de pesquisa e desenvolvimento no Texas. É uma espécie de Projeto Manhattan, que entre 1942 e 1947 mergulhou na criação da bomba atômica. A IA, a explosão necessária, tem mais poder do que artefatos bélicos — com a diferença de não ter como principal objetivo a morte de outras pessoas.
Não por acaso, a turma das big techs — Mark Zuckerberg, Jeff Bezos e o indefectível Elon Musk — foi ao beija-mão da Casa Branca no dia da posse do republicano, e não exatamente por ideologia. Eles querem um naco das verbas, sem as quais estarão alijados da engrenagem. Decide-se agora o futuro do trabalho, e saber como manejar as ferramentas de IA é o segredo para fazer valer a ironia de Twain atrelada ao quebra-cabeça dos empregos: “As notícias de minha morte foram claramente exageradas”.
Quando virá a rose de Os Jetsons?

O futuro foi sempre imaginado em páginas da literatura, no cinema e na televisão. Na década de 60, o desenho animado Os Jetsons, clássico dos clássicos, família divertida da Cidade Orbit, emoldurada por carros voadores, apresentou ao mundo Rose, a simpática funcionária da casa. E então, Rose virou símbolo de robô afeito a dar as mãos a nós, humanos. Uma pergunta não quer calar: chegamos lá? A resposta: não, e talvez nunca cheguemos, apesar dos extraordinários saltos da IA, que rouba empregos, mas talvez nunca chegue a mudar a dinâmica doméstica.
Contudo, protótipos apresentados recentemente abrem portas e merecem aplauso. É o caso do Neo, o humanoide da empresa americana 1X, de movimentos articulados e corpo revestido com roupa acolchoada. Ele anda e cumprimenta pessoas com aperto de mão. Responde a perguntas e abre a porta da geladeira. Até o fim de 2025, haverá 100 deles em operação. O Neo não tem sutilezas, mas, ao menos em vídeos, impressiona.
Direto ao ponto: apesar do espanto, os humanoides, chamemos assim, não têm tecnologia para fazer parte das famílias de modo seguro e ético. “Muitos componentes precisam ainda ser desenvolvidos e ajustados”, diz Esther Colombini, professora de robótica da Unicamp. Mas houve avanços entre a ficção e a realidade. Rose andava sobre rodinhas, como patins. Neo tem pernas, mesmo que não consiga caminhar em qualquer piso e seja lento. Somem-se as evidentes dificuldades de custo e manutenção. No caso dele, para cada articulação há um pequeno motor, de pelo menos 1 000 dólares. Completo, não sairia por menos de 120 000 dólares. O tempo o faria mais em conta, sem dúvida, mas talvez seja cedo demais para contar com essa turma.
Especialistas dão a letra: serão necessários ao menos dez anos, no mínimo, para os autômatos de sonho entrarem no cotidiano. Com uma certeza momentânea: nunca serão espetaculares como os desenvolvidos pela infinita criatividade humana.
Publicado em VEJA de 17 de abril de 2025, edição nº 2940